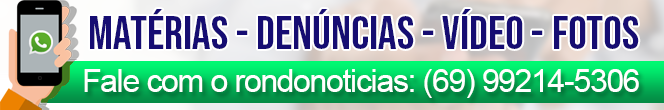-
Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 8 de agosto de 2025
Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 8 de agosto de 2025

Madeira-Mamoré: 113 anos de ferro, fumaça e as memórias do ‘velho’ Miguel Sena
Arimar Souza de Sá
No dia 1º de agosto de 1912, Porto Velho testemunhava o início de um dos marcos mais significativos de sua história: a instalação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
A epopeia de sua construção foi um movimento que conectou culturas, atravessou fronteiras e ajudou a desenhar o futuro da nossa região. Décima quinta ferrovia do país, completou agora 113 anos de memória, suor e bravura.
Construída para transportar borracha, a ferrovia ligava Porto Velho a Guajará-Mirim, onde a navegação pelos rios Madeira e Mamoré era interrompida por cachoeiras.
Era um empreendimento titânico, de alma febril, vencendo a selva centímetro por centímetro — com um preço pago em milhares de vidas, onde cada dormente fincado resultou numa cruz. As doenças tropicais levaram consigo trabalhadores de todas as partes do mundo — e, junto deles, sonhos, sotaques e despedidas.
Quando funcionava, o trem levava e trazia gente. Levava e trazia riquezas. Ia e voltava com o peito cheio de guajaramirenses e bolivianos…
Diz a história que, à época, de Belém (PA) vinham os paneiros com farinha. De Guajará-Mirim, as peles de borracha — o ouro negro amazônico.
A borracha era para vender ao exterior; a farinha, para comer — muitas vezes transformada no singelo chibé: farinha, água e açúcar.
Na incipiência da época, a vida era isso: comer, comprar, vender. E resistir.
Foi também ali, na Estação da Madeira-Mamoré, na década de 70, que vivi meus primeiros ofícios. Ainda adolescente, vendi picolé com meu velho isopor, testemunhando a vida que brotava entre trilhos e dormentes. Ali era o palco onde o Brasil profundo encenava, diariamente, seus dramas e esperanças — numa cidade que nascia ao lado do rio.
Via gente que partia com os olhos marejados e esperança nos bolsos; via quem chegava com o corpo cansado, mas o coração ainda aceso. Ouvir aquelas histórias — no vai e vem do trem — era como folhear um livro vivo da Amazônia, encadernado a carvão, suor e fuligem da lenha queimada nas caldeiras do trem.
E eu, menino, acabei colecionando várias delas. Mas nenhuma me marcou tanto quanto as narradas por seu Miguel Sena (já falecido) — construtor e pioneiro da vida guajaramirense.
De estatura baixa, coração valente e benevolente, seu Miguel era figura certa lá em casa, sempre que vinha a Porto Velho visitar meu pai, que trabalhava na Secretaria de Obras. Chegava cansado, em busca de obras a serem realizadas na Pérola do Mamoré.
Com seu inseparável chapéu Panamá e a voz calma e mansa como brisa da tarde, nos presenteava — a mim, meus pais e meus irmãos — com as lembranças vivas da ferrovia.
Contava os solavancos do trem, o calor insuportável dos vagões, os encontros e os sustos da estrada. Seus relatos pintavam com palavras o trem cuspindo vapor como um dragão de aço, serpenteando por entre a floresta adormecida e a impaciência de chegar.
Descrevia a viagem pela bucólica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré como quem fala de uma velha amiga. Relembrava as façanhas à frente da fornalha, queimando lenha, soltando brasa — enquanto o vagão se arrastava, rangendo nos trilhos como se contasse seus próprios pecados no meio do nada.
A viagem, dizia ele, era infernal. Os vagões não tinham refrigeração, e o sol escaldante moía os corpos dos passageiros. Era como se as almas fossem passadas a ferro no purgatório da floresta, sem direito a um único refresco. Mas, ainda assim, falava com entusiasmo: era uma viagem de trem, pelas entranhas verdes e misteriosas da Amazônia — onde carapanãs, onças, antas e quatis, espreitavam os trilhos como guardiões silenciosos da floresta bruta.
De quando em vez, seu Miguel lembrava, uma flechada perdida — ali pelas bandas do Mutum-Paraná — deixava um homem estendido no chão. Um ranger de dentes por uma vida que se foi pelas mãos dos índios. Era o duelo mudo entre o civilizado e o selvagem, entre a pressa do trem e o tempo da mata.
Seu Miguel contava que, durante o trajeto, os pobres andavam na segunda classe, espremidos pelo calor e pela esperança. O compasso era lento. O vapor, pesado. O atrito entre os trilhos e a alma dos viajantes parecia moer o tempo que insistia em não passar.
O gás da máquina, nas caldeiras, respirava fundo, soltando fuligem ao vento — como se também sofresse.
Contava também o susto com um animal atravessado nos trilhos. De repente, dizia ele, um estampido seco, um eco estourando na mata — e o vagão parava. Era uma anta no “mata-burro”, ‘mortinha da silva’. Depois do susto e dos trâmites, o trem seguia seu caminho.
E foi assim, cuspindo fogo desde o princípio, que elas — as máquinas 15, 16 e 17 — iam e vinham de Porto Velho a Guajará-Mirim, estreitando os laços de humanidade entre as duas cidades pioneiras — e entre o Brasil e a Bolívia.
Nas vindas de seu Miguel Sena para Porto Velho, havia um gesto ritual, esperado com alegria: ele sempre trazia o pão Recife, fabricado em Guajará. Aquele pão retangular, de crosta dourada e miolo fofo, era muito mais que alimento — era uma demonstração de afeto assado em forno de saudade. Lá em casa, era festa. Era laço de amizade embrulhado em cheiro bom. Um presente que nos abraçava pela barriga e pelo coração. E, na sequência, sempre rolava um cafezinho e muitos dedos de prosa.
Das minhas próprias lembranças, trago também as partidas e chegadas:
Toda viagem era sempre assim: com o bilhete de passagem apertado entre os dedos, os passageiros embarcavam com um silêncio meio apreensivo gritando por dentro. Na hora da partida, um lenço branco tremulando no ar — e, às vezes, no rosto de quem ficava, o coração escorrendo em forma de lágrima.
Já na chegada, quase sempre, o que gritava era o vazio da saudade — um silêncio morno, como se um pedaço deles tivesse ficado perdido na viagem ou adormecido entre trilhos e dormentes, esperando que a próxima locomotiva trouxesse de volta aquilo que o tempo levou.
É claro que tudo isso deixou saudades. Ficou gravado na minha memória afetiva e, de forma indelével, marcou uma época — hoje estranhamente adormecida no silêncio melancólico da história vida portovelhense.