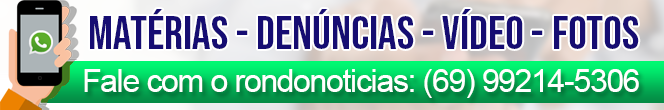-
Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 20 de fevereiro de 2026
Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 20 de fevereiro de 2026

Crônica de fim de semana
O tempo em que havia ídolos, palavra e encanto
*Arimar Souza de Sá
Os dias correm ligeiros nesta minha maturidade e confesso: ando mais exigente — e mais saudosista. Peço até perdão. Não é amargura. É memória. É a sensação de que vivi um tempo em que as coisas tinham mais peso, mais cheiro, mais alma...
No tempo em que vivi — e não faz tanto assim — o Brasil parecia pulsar diferente. Não era perfeito. Nunca foi. Mas havia densidade. Havia entrega. Havia uma chama que não precisava de marketing para incendiar o peito da gente. Quem viveu, não esqueceu.
Querem ver?
No futebol, existia o futebol moleque. O drible nascia da rua, da terra batida, da ousadia que fazia o estádio prender a respiração antes da explosão. Eram brilhos desconcertantes. Zico, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno entortavam zagueiros como quem dobra papel — e não pediam licença. A Seleção não era extensão de marca pessoal. Era altar. Era vitrine do país para o mundo. Jogava-se com garra e o coração no bico da chuteira.
Hoje o futebol é científico, físico, globalizado. Há talento, sim. Mas, aos meus olhos envelhecidos, falta o improviso insolente. Falta o drible que nasce da irreverência. Falta o menino que jogava por amor antes de entender o tamanho do contrato.
Na música, havia enfrentamento. Chico Buarque escrevia versos que atravessavam a censura como lâmina fina — “Hoje você é quem manda…”.
Caetano Veloso cantava “Enquanto os homens exercem seus podres poderes…” e a canção virava denúncia. Guilherme Arantes lembrava que “Amanhã será um lindo dia…” — e aquilo era mais que melodia, era esperança. A arte era trincheira. O palco era campo de batalha simbólico.
Depois, o silêncio. A música hoje é plural, diversa, conectada — e, muitas vezes, vazia. Sabe Deus aonde foi parar aquele espírito de rebeldia poética. A contestação embalada em harmonia parece ter evaporado como perfume antigo. As benesses da Lei Rouanet cooptam, acomodam, silenciam essa gente grande. Credo! Sinto falta do verso que incomoda, da canção que arrisca. Talvez a rebeldia tenha ficado mais sutil e não compreendo. Talvez eu esteja medindo o presente com a régua da emoção que vivi. Tomara.
Na igreja, os hinos arrepiavam. O coral subia, e o coração acompanhava. Não havia espetáculo; havia reverência. O silêncio também era parte da liturgia. Hoje há tecnologia, som impecável, luz bem desenhada. Tudo correto. Mas aquela simplicidade que fazia a lágrima brotar sem aviso na hora da comunhão, parece ter ficado guardada em algum banco de madeira do passado.
E os homens?
Eram do fio do bigode. Palavra empenhada era contrato moral. Não eram santos — nunca foram, mas eram firmes. Havia coluna. Havia honra como bússola. Hoje o mundo é mais veloz, mais exposto, mais pressionado. Convicções mudam com a velocidade das redes. Talvez não seja fraqueza; talvez seja o peso do tempo. Mas sinto falta da firmeza tranquila. Do tutano da palavra que bastava.
E o Carnaval…
Ah, o Carnaval.
O Sambódromo da Marquês de Sapucaí era templo cultural e não político. Os sambas-enredo incendiavam a avenida. Quando a bateria rufava, o peito do povo respondia em uníssono.
A União da Ilha do Governador cantava “É Hoje o Dia da Alegria…” e o Brasil sorria junto.
O “Bum Bum Paticumbum Prugurundum”, do Império Serrano, levantava arquibancada em delírio, como trovão em céu aberto.
A Mocidade Independente de Padre Miguel ensinava que “Sonhar não custa nada” — e a gente acreditava. E a Estação Primeira de Mangueira lembrava que “Atrás da Verde e Rosa só não vai quem já morreu”. Aquilo grudava na pele. Era crítica com poesia. Era enredo social, histórico, cultural de verdade. Hoje os desfiles são grandiosos, tecnológicos, impecáveis. Mas, para este coração saudosista, falta a magia que vinha sem cálculo e invadia.
Neste Carnaval de 2026, quando a Acadêmicos de Niterói levou à avenida um desfile carregado de recados ideológicos explícitos, muitos aplaudiram. Outros — como eu — sentiram o gosto amargo da ruptura. A avenida virou tribuna. A fantasia, panfleto e deboche. O samba perdeu o sorriso e ganhou dedo em riste. A arte, que antes unia, passou a dividir ainda mais.
Pode ser liberdade criativa. Pode ser arte política. Mas, para quem viveu a leveza poética de outros carnavais, soou como ruptura brusca. O maior espetáculo da Terra não precisa virar palanque para ser grandioso. Reconheço: o espetáculo cresceu. A técnica impressiona. O mundo mudou. Talvez eu apenas tenha envelhecido e me perdido na ferrugem do tempo.
Mas é inegável: antes havia ídolos de carne e osso que atravessavam gerações. No Carnaval, referências maiores que o próprio ego. No campo, craques, sem máscara. Nos palcos da vida, artistas e homens que sustentavam palavra, camisa e coragem com naturalidade. Hoje temos celebridades. Temos números. Temos seguidores. Mas em tempos de modernidade, ídolos verdadeiros — diga: quem é o seu?
E quando um país começa a ter dificuldade de reconhecer a grandeza — não por falta de talento, mas por falta de profundidade — algo se esvai como água entre os dedos. Pode ser apenas nostalgia. Peço perdão, se for, mas isso não se ensina, se vive... Mas, quando uma nação passa a aplaudir o raso e a esquecer o essencial, não é o tempo que mudou — nem sou eu que envelheci ranzinza e saudosista. É o padrão que caiu.
E isso, lamentavelmente, não é poesia. É diagnóstico!
AMÉM!
*O autor é jornalista, advogado e apresentador do Programa A VOZ DO POVO, da Rádio Caiari FM, 103,1.