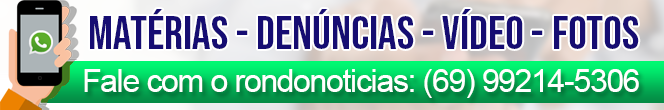-
Fundado em 11/10/2001
porto velho, domingo 8 de março de 2026
Fundado em 11/10/2001
porto velho, domingo 8 de março de 2026

Em 1975 morávamos no bairro Ipase Novo, em Porto Velho. A proprietária da casa era a Dona Raimundinha Amora, que com grande estilo batia à minha porta assim que sabia haver o INCRA pago o salário do mês.
Casa muito simples, com um aluguel conveniente para um orçamento apertado. Na vizinhança havia um casal, Roberto e Hitomi, com dois filhos. Ronaldo, que morava em Belém com a avó paterna e Sayuri, ainda pequenina.
Mais tarde viria o Alexandre. Dos filhos do meu primeiro casamento ainda não nascera a Irene. Eram, então, a Gabriela, o Amadeu, que até hoje é conhecido por Gumeg e o Carlos, que a maioria das pessoas chama de Chico.
Roberto e Hitomi eram boas pessoas, muito prestativos e estávamos sempre juntos, exceto quando o Roberto se enfiava pelo mato comprando borracha e castanha para a empresa I. B. Sabbá, para quem trabalhava.
Num fim de semana eles nos convidaram para um passeio até a Colônia dos Japoneses, com quem eles tinham estreita relação, já que a Hitomi tinha os pais japoneses legítimos, que vieram naquela leva de imigrantes, que recém comemoraram 100 anos de sua vinda para o Brasil. Os pais dela fixaram residência no Pará, na cidade de Tomé-Açu, onde ela e Roberto se conheceram e casaram.
Indo, então, à Colônia 13 de Setembro, tive oportunidade de vivenciar com um povo maravilhoso.
Gente trabalhadora, fidalga e divertida.
Dos pequenos lotes que possuíam eles tiravam produtos hortigranjeiros, que eram vendidos nos mercados da cidade, tanto no Central, como no quilômetro 1.
Passamos um domingo muito agradável com aquela comunidade gentil.
O Chico ainda muito pequeno, estava com um ano, nada usufruiu, mas a Gabriela e o Gumeg se divertiram muito, naquele ambiente rural, descobrindo hortas, plantações de pimenta do reino, galinhas no quintal e cachorros.
Reparei numa cadela muito bonita, vira-lata, sem dúvida, mas de bom porte e de pelo completamente preto. Ela impressionava pelo tamanho, ao mesmo tempo em que era de uma surpreendente mansidão.
Estávamos na casa do “Seu Jorge”, como era conhecido o japonês Matsushita Ozeki.
O almoço, a par da simplicidade e afabilidade do ambiente, foi um verdadeiro banquete.
Que comida deliciosa e que pessoas prazerosas.
Eu não tirava o olho daquela cadela preta. Ela me impressionara.
Seu Jorge notou meu interesse e falou que ela, a cachorra, estava prenha e em breve daria cria, por isso estava um tanto sonolenta. Mas era excelente companhia para os filhos e ótimo guarda da propriedade.
A notícia da prenhês do animal me atiçou de vez e tomei a liberdade de perguntar se eles me dariam uma cria. A resposta, obviamente, foi um sim.
Eu estava, com aquele pedido, atendendo às minhas crianças que há muito imploravam por um cachorro para brincar.
Pois é, naquela época cachorro era para isso. Brincar com as crianças.
Voltamos para casa ao cair da tarde e eu contei para os pequenos que em breve nós teríamos um cachorrinho em casa. Foi o auge daquele dia maravilhoso que passamos.
Passado algum tempo recebi, através da Hitomi, a notícia: seu Jorge informava que a cadela dera cria e que havia um cachorrinho reservado para mim. Podia ir buscá-lo quando quisesse.
No primeiro fim de semana pegamos a estrada para a Colônia.
Algo impagável a alegria das crianças ao lá chegarmos e nos ser entregue uma bolinha peluda, preta como a mãe.
Agradeci ao Seu Jorge, tomei uma pinguinha com ele e voltamos para casa.
A viagem de volta – era uma viagem – foi de extrema felicidade para todos. Claro que já houve briga dentro do carro, pois todos queriam pegar o cachorrinho. Imposto o rodízio de 10 minutos para cada um, o tormento passou a ser o controle do relógio.
Chegamos em casa e surgiu a questão: qual o nome do cãozinho?
Trabalhava em nossa casa a Alda, uma capixaba forte e trabalhadeira. Chegou até nós vinda de Jaru, separada do marido e carregando uma filhinha nos braços. Ficou conosco.
No INCRA, onde eu trabalhava, havia um cara que mexia com eletricidade e ar condicionado, a quem eu pedi que, numa hora de folga fizesse algum serviço na minha casa.
O rapaz chegou lá, trabalhou, bateu o olho na Alda e deu liga.
Algum tempo depois eles estavam morando juntos e assim ficaram até alguns anos atrás, quando a Alda faleceu vítima de câncer. Tiveram mais quatro filhos, sendo eu padrinho de um deles, que me homenagearam dando-lhe um nome tipicamente gaúcho – Rodrigo. Lembrando o Rodrigo Cambará, da obra de Érico Veríssimo – O Tempo e o Vento.
Este rapaz, que é amigo até hoje, era um morenão tipicamente amazônico e se chamava José Rodrigues. Claro que o tratamento era Zé.
Olhamos para o Zé, olhamos para o cachorrinho, ambos pretinhos e amigos e deu-se o estalo. Conversamos com o Zé e com a Alda; ambos acharam muita graça e disseram que nada tinham a opor. Estava resolvido o problema e o cão foi batizado – ZÉ.
Zé cresceu rapidamente. Ficou um belo cão. Todo preto com umas polainazinhas brancas nas patas. O rabo era típico do “street dog”. Longo, quase fechando um círculo na extremidade e abanando freneticamente o tempo todo.
As crianças se divertiam muito com ele e, claro, lhe faziam algumas maldades, das quais ele procurava escapar sem jamais ter sido agressivo.
Afirmo que várias vezes a meninada compartilhou o prato de comida com o cão, já que naquele tempo não havia a alimentação especial de hoje - ração. O que comíamos, comia ele.
Quando pressentia que haveria um churrasquinho, ele ficava numa euforia incontida, porque à medida que a carne ia assando ele funcionava como meu degustador e, ao término da comilança, lhe era reservada uma generosa costela (com bastante carne), que ele se punha roer por horas e horas.
Quando cansava o maxilar, cavava um buraco, enterrava o osso, pelo qual procuraria no dia seguinte.
Mais adiante nos mudamos do Ipase Novo. Fomos morar na Rua Tenreiro Aranha, quase esquina com a Av. Carlos Gomes, em uma casa de propriedade do Dr. Jacob Atalah. Nesse endereço funcionou, anos depois, uma emissora de televisão e hoje o imóvel está completamente abandonado.
O Zé, como bom vira-lata que era, não sofria limites com portões e muros. A rua era de terra e em frente à casa havia uma enorme vala, por onde escorriam águas pluviais e, certamente, muita água servida e esgoto.
Por ali perambulavam o cachorro e as crianças.
Meu carro era um fusca branco, que eu às vezes punha na garagem da casa, o que dava muito trabalho, pois precisava, com alguma perícia, atravessar uma pontezinha de madeira, muito precária, que dava passagem sobre a valeta.
Em qualquer lugar que o carro ficasse, ao anoitecer o Zé saltava do para-choque para o capô e daí para o teto, onde dormia serenamente.
Tenho a impressão que ele assim fazia para demonstrar preocupação com o único patrimônio que tínhamos. Outros amigos diziam que era safadeza do Zé; ele dormia em cima do carro, porque ali, em cima da lataria, à noite era mais fresquinho.
Continuo preferindo a primeira hipótese, até porque ela só fazia aquela proeza no nosso carro. Qualquer um outro que encostasse por lá, mesmo estimulado a subir o Zé não o fazia.
A festa com o Zé e as crianças era permanente. Púnhamos qualquer um deles numa rede e quando dávamos conta o cachorro estava lá também. Sem contar que faziam o cachorro de montaria, sem que ele esboçasse reação contrária.
Lembro uma ocasião que o Chico adoeceu. Uma dessas viroses que provocam muita febre, diarréia e perda de apetite.
O grande amigo e pediatra José Adelino, cuidava da molecada com enorme carinho e dedicação. Não havia plano de saúde, o dinheiro era curto e, com três filhos sempre havia algum necessitando dos cuidados do Adelino. Com dinheiro apertado, a solução era fazer a consulta e “pendurar”. Mesmo com muita conta pendurada o Adelino não deixava de dar uma passada em casa para saber como estava o pacientezinho dele. Um belo profissional, sem dúvida.
Nessa ocasião da doença do Chico, verifiquei que o Zé deitou-se na soleira da porta do quarto onde o pequeno estava e dali não saía. Às vezes gania, como se estivesse chorando. Vez por outra, quando a porta se abria ele entrava no quarto, dava uma espiada no amiguinho adoentado e voltava para seu lugar do lado de fora.
Isso durou uns sete dias. Já sem febre e se reanimando por estar se alimentando, o Chico saiu do quarto, oportunidade em que me impressionou e sensibilizou verificar a alegria que o nosso vira-lata estava tomado. Viu o Chico, fez-lhe enorme festa, e correu a procurar pelo seu prato de comida, já que durante todo aquele tempo raramente ele tinha se alimentado.
O Zé conhecia todos os meus amigos e os recebia educadamente. Já se um estranho aparecesse seu pelo se ouriçava e ficava em vias de atacar, mas aguardando alguma manifestação minha.
Como vivíamos tempos outros (bons tempos), em que se dormia de janelas abertas e a chave do carro ficava na ignição, o Zé jamais precisou revelar seu instinto selvagem. Seus belos dentes brancos serviam para mastigar os nacos de carne que ganhava e para sorrir.
É... o Zé sorria.
Minha casa sempre foi um reduto onde muitos amigos se chegavam. Ali se contava muito “causo”; se discutia política; se ouvia música (havia uma fantástica coleção de long-plays); muita bebida (cerveja, caipirinha e campari); confidências; projetos de vida e alguns casamentos.
Havia, também, muita seresta. Sempre aparecia um violão e a turma soltava a maior cantoria, numa felicidade enorme.
Aos primeiros acordes do pinho o Zé se postava embaixo de alguma cadeira e ficava curtindo as músicas que se sucediam.
Ele ouviu o Zebrazem, a Nelcina e o João Alberto, o Ney e muito outros violeiros e, algumas vezes teve o privilégio de ouvir um doce casal de velhinhos que vinha de Porto Alegre visitar o filho e jamais deixavam de cantar a música “Beijinho Doce”. Eram a Dona Laurinda e o Seu Gastão, pais do Mâncio.
Nessas ocasiões o Zé abandonava o posto de vigilância, em cima do fusca e vinha curtir a seresta e a alegria do pessoal.
Em 1976 meu pai e minha mãe estiveram conosco por alguns dias.
Logo o cachorro estava enturmado e quando meu pai ia tomar seu chimarrão, ele lhe fazia companhia e as honras da casa.
Apreciando o “way of life” do Zé, meu pai, bom gaúcho acabou definindo-o: “Mas que cusco mais sem-vergonha”.
Os amigos todos, e eram muitos, tinham uma empatia enorme com o Zé, pois a cada um ele fazia uma festinha quando chegavam e, conforme o estado que saiam, por medida de segurança, ele os acompanhava até as suas residências. Caso estivessem a pé.
Por lá andavam o Ney, com suas meninas, o Décio, ainda sem filhos, o Mâncio e a Vera, o Cabeça (Rogério) com a Taís; o Danilo com sua síndrome de galinheiro; o Claudinho com suas presepadas nordestinas; o Ricardo e seus homéricos pileques; o Sérgio Darwich com aquela abundância de palavrões e gargalhadas enormes.
Pelo menos uma vez por semana passava por lá o Hugo Motta, fazia um agrado para o Zé, pegava o Gumeg e a Gabriela e os levava para passear. O Hugo dizia que o Gumeg era um principezinho, com cabelos encaracolados, brilhantes olhos azuis e que, quando andava com ele, um bando de mocinhas se aproximava. Era tudo que ele queria.
Quem se aproveitava da confusão entre os dois Zés era a Alda. Com razões que se desconhecia, mas se adivinhava, quando o Zé humano estava lá em casa, ela aproveitava e deitava xingação em algum Zé, olhando para o outro.
Ela chamava o Zé, o cão, de safado e o Zé, o humano, me dizia, “isso é prá mim”.
Saíamos de carro e o Zé corria ao lado até que abríamos a porta e ele mergulhava para dentro, para alegria da molecada, E ele ainda disputava com as crianças o privilégio do quebra vento traseiro do fusca.
Esse mesmo fusca era um predestinado a grandes aventuras. Certa vez eu o emprestei ao Paulo Queirós, que não sabia dirigir, mas me convenceu a emprestá-lo, dizendo que iria aprender. Mas, isso é outra história, e das boas.
Num tempo eu estava sozinho em Porto Velho. A família havia viajado para passar as festas de fim de ano em Porto Alegre. Junto com alguns amigos (Cabeça, Orelhudo, Danilo e, acho que o Décio estava junto), resolvemos dar uma esquentada numa boate muito bacana que havia ali na Gonçalves Dias. Chamava-se Vip’s a casa noturna.
O fusca saiu lotado de minha casa. Dois quarteirões adiante viram o Zé correndo ao lado do carro, como sempre fazia. Mandaram que eu parasse. Porta aberta o cão pula para dentro e resolvemos levá-lo conosco, afinal ele iria mudar um pouco o estilo musical a que estava acostumado.
Havia um leão de chácara na porta. A estratégia, para que nosso amigo entrasse, foi descermos rapidamente do carro, cercar o amigo porteiro puxando variados assuntos, enquanto um dos companheiros entrava na boate levando o Zé.
Como todos estavam prá lá de sóbrios, foram feitas muitas recomendações ao cachorro, para que ele se comportasse direitinho, já que haveria o risco de, por causa dele, sermos expulsos daquele local, que era a ante-sala dos prazeres da carne.
A combinação foi plenamente exitosa. Quando percebemos que o Zé já havia entrado, encerramos o assunto com o porteiro e adentramos à casa.
Se vivia o auge da Zona Franca de Manaus. Por isso a boate era maravilhosamente bem equipada, tanto em som como em luzes. Luz negra, globos circulando, faróis cintilando, mulheres, muitas mulheres e o ritmo da época – a discoteque – puxada por Donna Summer e outras tantas que proliferaram então.
O Zé nem aí para aquela confusão. Deitou-se embaixo de nossa mesa e ganhava generosas sobras de tira-gosto.
Lá pelas tantas, não sei quem teve a idéia, ou melhor, sei...o Ricardo, aparece na pista de dança puxando o Zé pelas patas dianteiras e não é que com a luz negra deu para perceber o largo sorriso do bicho e uma ginga muito apropriada para a música que estava tocando.
Foi o maior sucesso. Tão grande que o próprio dono da casa veio confraternizar conosco.
Depois de muita dança, muito álcool, pares formados ou não, tomamos rumo aos matadouros. O Motel de então era o “Descanso do Guerreiro”. Ficava lá adiante do banho do Areia Branca, no meio do mato mesmo. Eram várias cabanas bem rústicas onde a festa continuava e agora com sabor de ecologia. E o Zé junto.
Pela manhã, já em casa, ressaca braba da qual nem o cachorro escapou. Só queria água e silêncio.
Não havia comida em casa e eu dei a ele um presunto inteiro que estava na geladeira, já que não tinha ânimo para cortá-lo. Ele o cheirou, mas não deu conta de comê-lo. Abocanhou o manjar, dirigiu-se ao quintal e lentamente abriu um buraco onde enterrou o alimento, guardando-o para mais tarde, quando estivesse em condições físicas melhores. Só faltou pedir um engov ou um sonrisal.
Outra vez essa mesma turma, dessa feita quem estava junto era o João Otávio Pinto, engenheiro Paraense que era sinônimo de festa desbragada, ao voltarmos para casa encontramos o Zé, que nos recebeu com a alegria de sempre.
Pois o Pinto achou que o Zé estava muito sujo e cheirando mal. Em alguns minutos estava o Zé dentro da máquina de lavar roupa, passando depois pelo tanque onde enxaguou para em seguida rolar na terra e se secar.
Eu sei que ele não gostou daquele banho e eu até hoje me culpo, por não ter tentado evitar aquela judiaria que fizeram com o meu amigo. Ele, contudo, não demonstrou nenhum ressentimento.
O Dr. Jacob pediu a casa onde morávamos, pois um irmão dele estaria vindo do Rio de Janeiro.
Mudamos novamente. Agora fomos para a casa dos Paraguassu, ali na José Bonifácio, esquina com a Duque de Caxias, onde hoje está sediada a empresa Guascor.
O Zé ficou para trás na mudança e eu achei que ele nos acompanharia. No entanto, sei lá se ele se perdeu, ou se gostava demais da outra casa; o Zé não apareceu na nova morada.
Passados uns três dias as crianças tanto aporrinharam a mãe deles, que ela resolveu passar em frente à antiga casa. Agora o carro já era uma Belina. E lá estava o Zé, muito triste, deitado na calçada. Ao ouvir os gritos da meninada ele literalmente se atirou para dentro do carro, onde rolou a maior festa.
Como bom malandro que era, não resistia ao apelo de uma cadela no cio. Sempre que isso acontecia o bicho sumia por sete dias ou mais.
Sabe-se lá ponde andava e ao cabo desse tempo ele retornava em estado lastimável. Chegava que era só o coro e a catinga, como dizia a Dona Dina, mãe do Claudinho, para os filhos quando faziam aprontes assemelhados.
Com essas excursões dele nos acostumamos, mas uma ocasião ele demorou demais a voltar, ao ponto de as crianças chamarem minha atenção.
De fato, fazia muito tempo que ele tinha ido vagabundear. Já devia ter voltado.
Como a cidade era pequenina passamos a procurá-lo, sem êxito, porém.
A última tentativa para localizá-lo foi o canil municipal.
Na ocasião eu era o Diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura e conhecia todos os servidores do Município. O encarregado da carrocinha era o Inácio de Loiola Reis, que era diretor de alguma coisa na Prefeitura. Falei com o Inácio e fomos até o canil.
Lá chegando o encarregado ao ouvir a descrição do Zé e a aflição das crianças, chamou-me em um canto e confidenciou que o Zé havia sido assassinado (sacrificado) no dia anterior.
“Não foi descuido não Doutor, mas o bicho era muito vira-lata e estava com péssima aparência, parecia que não tinha dono. Se eu soubesse que o cachorro era dos seus filhos....”.
Foi-se o Zé. Muitas lágrimas rolaram por ele e até hoje há quem sinta saudade daquele fiel amigo, aliás, bom que se frise, fidelidade e amizade são produtos em extinção na humanidade.
Talvez por isso seja tão forte a lembrança do Zé, ao ponto de, recentemente, depois do causo do pato, amigos haverem pedido que eu contasse essa história.